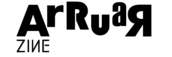Texto por Carlos Henrique Magalhães e arte por João Pedro Durán
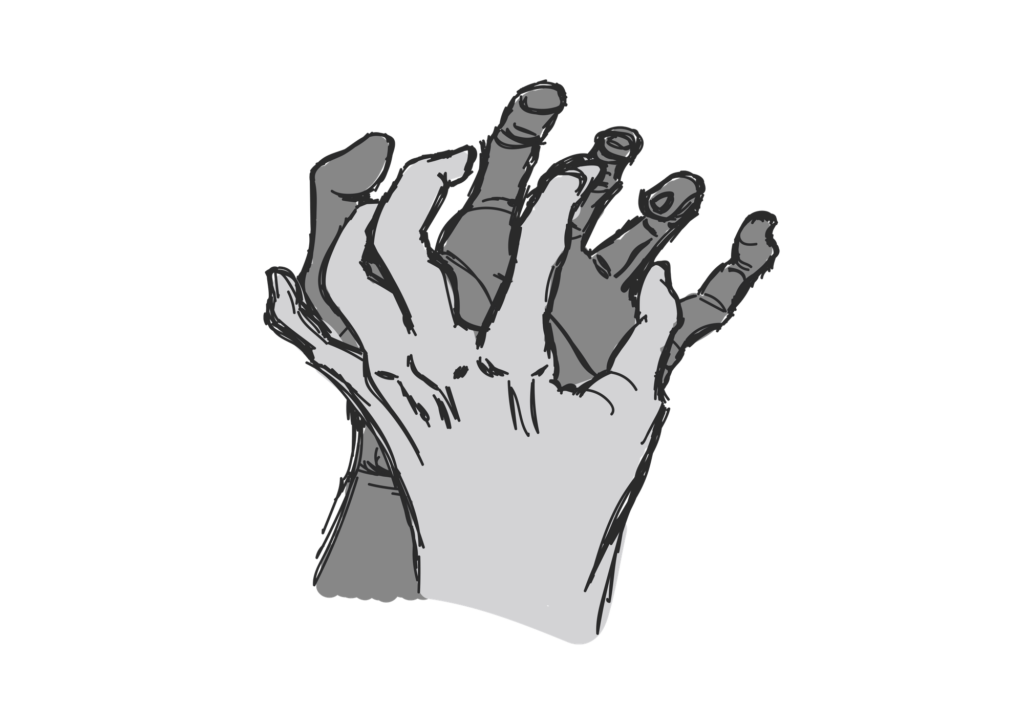
Quando tudo isso acabar não estaremos mais aqui. Ou estaremos de outra forma. Florestas, rios, ruas, gentes serão tudo uma coisa só. Em determinado espaço de tempo acharam por bem tornar a natureza algo fora do mundo; construir divisões arbitrárias para as divisões humanas (Isabel Wilkerson nos ensinou faz pouco o peso e a extensão das castas); invadir, saquear territórios; destruir vidas terrenas para criar uma versão pretensamente moderna e civilizada de estar juntos. O impacto das grandes navegações – seus impérios, seus desenvolvimentos, suas cidades – fez do mundo um acúmulo de sobrevivências. Assim podemos nomear todos aqueles que respiram nos últimos séculos nessa terra, que sofreram com o roubo de seus solos e suas almas. As bordas, os invólucros e proteções que os povos modernizadores se organizaram para produzir tornaram irreversível a possibilidade de existência, a longo prazo, da vida humana no planeta. Pensado com Latour, temos a remota possibilidade de fazer a política como multiplicação dos pontos de vista, como registro e consideração de um maior número de variáveis, “[…] a consideração de um maior número de seres, de culturas, de fenômenos, de organismos e de pessoas.” Mas coabitar parece não ser uma possibilidade para os que continuam alimentando grandes sonhos de evasão – até mesmo para outros planetas. As grandes migrações e a tragédia climática – o fim de Gaia – continuam ignorados solenemente. E isso acaba com todas as possibilidades de se construir qualquer tipo de prática comum. Esse espectro assombroso fez confundir os tempos. O tempo que deveria passar, não passa mais. Ficou. Dura a eternidade, se a gente nomear assim as substâncias num universo acósmico e em constante recombinação, quando já não estivermos aqui. Nem nós nem os peixes: rios e mares não terão mais sentido ou direção. Nem nós nem as plantas, já que o ar terá se tornado apenas um volume espesso dos últimos suspiros dos viventes.
Tudo isso que a gente torce para acabar talvez esteja apenas começando. Por “tudo isso” dizemos: a impotência definitiva de compartilhar experiências que amplifiquem as formas de produzir, habitar e coexistir. Faz quase dois anos que estamos assolados por uma pandemia que, parece, nunca vai terminar. Neste pedaço de mundo, a Amazônia queima em velocidade vertiginosa. Aumenta muito o risco de que uma família na África Setentrional seja expulsa de sua própria casa. Também deploram-se as alternativas para manter constante a produção agrícola em diferentes partes deste território. Nas cidades, é provável que a situação se torne insuportável até para aqueles que tem as garantias da polis respeitadas. Não são poucas as pesquisas que constatam a imensa possibilidade de um vírus adormecido em uma planta, um macaco, um morcego, ser inalado por alguém que garimpa a terra dos povos originários. A deplorável indiferença dos povos modernizadores se atualiza na seca e dura percepção dos grupos dominantes de que as coisas estão sob controle. Até quando vamos morrer não se sabe, mas a virulência da desigualdade ceifa os sonhos que tentamos construir ao partilhar o mesmo horizonte.
As metrópoles são hoje epicentro da pandemia e fonte e foco das mudanças climáticas, da explosão das desigualdades, das migrações desesperadas. É no espaço urbano que se manifestam os fatos trágicos da severidade de políticas acumuladas no longo tempo. Como é possível que a maior potência mundial, cujo aparato tecnológico está entre os maiores do planeta tenha sido também o país recordista em número de mortos pela atual pandemia? Nos anos 1990, o geógrafo David Harvey já nos chamava a atenção para o paradoxo da condição das mulheres negras que limpam alguns dos hospitais mais famosos do mundo – o Johns Hopkins por exemplo – mas não podem acessar os serviços quando estão doentes por não terem plano de saúde. A expectativa de vida no entorno imediato destes centros de excelência em saúde é próxima das áreas mais pobres do planeta.
No Brasil, o Sistema Único de Saúde cumpriu papel importante para evitar uma tragédia ainda maior do que aquela em que nos encontramos. As desigualdades operam violências e impõem segmentações na vida social de forma escabrosa e alucinante. Morre-se pelas condições precárias de habitação nas áreas vulneráveis e periféricas. Morre-se pelo total falta de comprometimento das autoridades instituídas com aqueles que mantém as coisas funcionando nesse ritmo de cegueira e loucura que vai nos destruir. Penso no adesivo da coleção pandemia, da editora n-1, que afixei onde pudesse ver com frequência: “A manutenção da ordem é a atividade principal de uma ordem social já falida.” As disparidades apresentam traços marcantes aqui na miséria dos que não tem abrigo, dos que precisam arriscar a vida no vai e vem do trabalho, em ônibus superlotados para prestar serviços em espaços cercados e protegidos. Formas urbanas de desconexão voluntária e de separação.
Desconectar e separar foram verbos recorrentes na formação das cidades brasileiras. As identidades inventadas no espaço da rua foram feitas para separar a população não nobre, deixar clara a distinção hierárquica. As ruas do Rio são espaço síntese dessa experiência sem par. As cidades foram construídas aqui por uma prática urbanística feita a partir de organizações e separações. Tradicionalmente, a abreviatura empregada nos currículos de graduação país afora entende o urbanismo como ciência europeia surgida no bojo das revoluções no modo de produção ocorridas no século XIX. Mas se na Europa as balizas estavam orientadas para dar forma a novos edifícios de uso público e habitações, e proporcionar o acesso de forma equilibrada aos benefícios da vida urbana, nas regiões colonizadas as prioridades eram outras. Infraestruturas de circulação humana, de matéria e energia foram concebidas para otimizar a exploração. O comércio trilateral entre Europa, Américas e Áfricas, baseado em commodities e no trabalho não remunerado derivado do tráfico negreiro deu forma às cidades do novo mundo.
Essas evidências parecem ter anestesiado a todos e todas. A vida de negros e negras nas ruas foi alvo do morticínio e de sucessivas ações de apagamento. Porém, a forma de vida que produziram trouxeram seus descendentes até este momento. Trabalharam entre várias temporalidades, souberam colocar diferentes tempos num mesmo tempo, fundiram muitos espaços num só. Suas ações combinam diversas expressões a partir de diferentes modos de articulação temporal: continuidades e rupturas; encadeamentos e suspensões; sucessão e coexistência. Inventaram idiomas para pensar a história humana como destino coletivo. Gestos que derivam da vida e do trabalho, cotidianos em que relações são próximas umas das outras. E aqui já não falamos mais em sobrevivências, já não nos referimos apenas ao alcance incontornável da urbanização sobre os corpos. Referimo-nos a um sentido particular de estar no mundo. O modo de se estar nas ruas através de incessantes conexões comunitárias sempre renovadas. Dias e noites feitos de amor e sacrifício. Na forte imagem oferecida pela poeta Luz Ribeiro: “fomos obrigados a tramar o futuro sussurrando”.
Esta trama de futuro, gostaríamos de sugerir, encontra nos termos “encruzilhada” e supravivência duas expressões fundamentais. Para falar sobre a primeira, recorremos ao pensamento de Leda Maria Martins (1997), autora que se dedicou a pensar, entre outros temas, sobre o sentido das enunciações rituais, os saberes transcriados, passados entre gerações, enredados pela oralidade africana-brasileira. Práticas que reverberam nas expressões cotidianas, nos códigos não declarados, e que, portanto, correspondem a uma existência que não é pautada pelo outro, mas a atravessa. Em uma palavra, não falamos em sobreviventes, mas em supraviventes, termo que Luiz Antônio Simas (2018) apresenta para tentar ultrapassar o padrão de oposição e resistência que se poderia supor nessa relação entre quem coage, controla e subtrai; e quem resiste, escapa e sobrevive. Supraviventes cruzaram a condição escravizada e atravessaram a modernidade diante de políticas e racionalidades do Ocidente Civilizado. São “aqueles que foram capazes de driblar a própria condição de exclusão (as sobras viventes), deixaram de ser apenas reativos ao outro (como sobreviventes) e foram além, inventando a vida como potência (supraviventes)”.
As duas expressões servem para lembrar que, de fato, disputar o campo político, econômico e material é indispensável. Porém, o “salto crucial entre a sobrevivência e a supravivência demanda um enfrentamento epistêmico e batalhas árduas e constantes no campo poderoso da elaboração de símbolos.” (SIMAS, RUFINO, 2018) E foram esses símbolos que entreteceram emaranhado de memórias e narrativas por parte dos povos desterrados. Estas experiências configuram como antídoto aos expedientes civilizatórios, pois as relações produzidas nas culturas de diáspora aumentam significativamente os repertórios de interpretação do mundo.
Leda Martins (1997) fala do corpo-encruzilhada que emerge nos congados, feita na materialidade de signos e significados dos festejos, capazes de produzir práticas que não elidem sujeito e objeto. Festejos atravessados de matizes cuja identidade constitutiva se faz na extensão dos rizomas “que reterritorializam as culturas africanas na cartografia da não brasileira.” Como nos lembra Lévi-Strauss, as culturas são por natureza incomensuráveis: “um resíduo em que se encontra a essência mais íntima” dos sujeitos a que nos referimos permanecerá sempre inacessível, ainda que fôssemos capazes de conhecer todos os meios para abordá-la desde fora. Ainda mais se pensarmos que, nas experiências aqui encadeadas, não parece haver separação radical entre natureza e cultura, entre visível e invisível, entre história e mito. Seja como for, se concordarmos que, mesmo considerando as particularidades que nos escapam, talvez possamos ver alguns dos contornos essenciais desenhados por Martins, pistas que podem aguçar nossas percepções quando falamos de cidade.
Ressaltamos a encruzilhada como espaço catalizador, lugar radical em que se interseccionam as engenhosidades limiares negras, lugar terceiro “gerador dos efeitos de variedade de processos inter-semióticos e transculturais, metonímia do segredo e metáfora das forças energéticas que iludem ou revitalizam o sujeito e as culturas que os constituem” (MARTINS, 1997, p.156). Por isso, observar as ruas a partir das encruzas nos permite vislumbrar os espaços construídos coletivamente por negros e negras a partir de conhecimentos curvilíneos em que as referências e noções de espaço se misturam. As maltas de capoeira podem ser entendidas como ocupações que se movem e se adensam em relação a ações vigilantes e coercitivas. As Casas de Zungú, espaços multivalentes, lugar ritual, político e de trabalho, são atravessadas pelos múltiplos vínculos que mantêm com o espaço urbano. Essas formas de comunicação e encontro atravessaram as transformações urbanizadoras que se propuseram a desfazer a porosidade, a estabelecer, nomear e ser a forma e extensão das práticas nas ruas a partir de esquemas geométricos gerais. As conexões intricadas por esses coletivos negros criaram uma zona fluida de interferência centrada na figura de malandros, caboclos e entidades que desfazem o caráter categórico das atividades que foram programadas para acontecer no espaço – novamente: de viés segregador, classificatório, ordenador e convergente.
A encruzilhada desconforta, é o que nos diz o professor Gabriel Schvarsberg. É o que nos permite pensar um urbanismo na prática dos cruzos. Esticando um pouco o argumento, nas encruzas, as ideias não se alinham ao tempo, mas saltam “dele como manchas que se espalham ao longo e no cruzamento das linhas, produzindo, como que em outra camada, a instituição de zonas problemáticas que podem se concentrar ou diluir, produzir sobreposições ou misturas. Podem ser emanações do próprio movimento de uma linha, como também testes maquinados pela tese, esse virtual que sobrevoa o conjunto e antecipa sínteses, acoplamentos e proposições” (SCHVARSBERG, 2018).
O corpo-encruzilhada de Martins rompe, então, com as constâncias. Nos exemplos apresentados acima, as ruas se tornam lugar de aprendizagem e astúcia. É o espaço dos supraviventes que, com seu passo enviesado, driblam e contornam a vigilância, conforme podemos depreender de Simas. Para que estes corpos pudessem supraviver, foi necessário multiplicar incessantemente os pontos de vista sem nunca aceitar o código pronto, o lugar e papel que foi atribuído à maioria da população de nossas cidades. Se a colonização é um empreendimento trágico, as culturas diaspóricas ampliam ao limite as variedades de percepções de mundo. A supravivência se faz na arruaça. Arruaceiros são os que produzem uma experiência fracionada e descontínua, os que aproximam a festa e o trabalho, as ruas e terreiros os rios e matas. Em síntese, a experiência supravivente é que produz uma forma de lidar com a vida numa composição potencialmente capaz de abarcar diferentes possibilidades de existência, atravessadas pela força que resulta do choque entre o visível e o imaginado.
No início desta reflexão discorremos sobre a fragilidade da nossa condição atual como efeito acumulado de um modo de vida que se entende inegociável por parte do Ocidente, do chamado “norte global”. Não somos capazes de reservar lugar central para denegação dos efeitos práticos e sensíveis acarretados pela explosão das migrações, o aumento da desigualdade e o colapso do clima. A falta de percepção sobre o Outro nos trouxe ao limite em que é possível não mais haver lugar para uma existência comum. Quer dizer, aquilo que se impunha de modo muito doloroso aos povos escravizados se amplificou. Em breve, ninguém mais terá chão. Ou talvez já não tenhamos e talvez seja um pouco disso o que Latour esteja pensando quando pergunta: onde aterrar?
Tentaram e continuam tentando exterminar negros e negras. Tentaram reduzir suas potências, desfazer seus laços e percepções de mundo. O mesmo ocorre com os povos indígenas que sofrem ataques de todas as partes, em todas as escalas de violência material e simbólica. Porém, nas tramas da vida, nas potências próprias de seu pensamento, vem sendo desenhadas táticas que jogam e se fortalecem nas ambiguidades do poder. Neste caso, remetemos às cidades, falamos da estrutura urbanística que nos trouxe até aqui: mortos e mortas contados às centenas de milhares. É como se a escravização pretendesse concluir seu curso, sua programação. Nos resta continuar a desfazer as fabricações humanas, a desafiar seus aparatos, expedientes e imagens. Se isso tudo acabar, não estaremos mais aqui. Acabar é deixar de ter efeitos no plano da existência. Aqui, é o lugar feito por poucos humanos, e por todos os seres terrestres. A morte não vai nos matar se pudermos supraviver.
Referências
LATOUR, Bruno. Onde aterrar? Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.
MARTINS, Leda Maria. Afrografias da Memória: o reinado do rosário do jatobá. São Paulo: Perspectiva, 1997.
SIMAS, Luiz Antonio; RUFINO, Luiz. Fogo no Mato – a ciência encantada das macumbas. Rio de Janeiro: Mórula, 2018.
SCHVARSBERG, Gabriel. Política das Ruas: devires, feitiços, encruzilhadas e outras histórias de cidade. Rio de Janeiro, 2013-2017. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: IPPUR, 2017.
Sobre o autor:
Carlos Henrique de Lima, arquiteto, doutor em urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília.